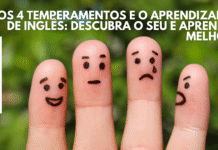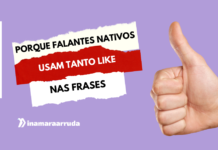O livro Coisa de Rico (2023), do antropólogo Michael Alcoforado, nos convida a refletir sobre como determinados bens, hábitos e saberes se tornam símbolos de distinção social no Brasil. Nesse contexto, surge uma questão crucial para a educação e para a identidade cultural do brasileiro contemporâneo: será que falar inglês ainda é “coisa de rico”?
A discussão vai além do idioma. Envolve relações de poder, autoestima, desigualdade social, acesso ao conhecimento e até mesmo neurociência. Afinal, o inglês não é apenas uma língua estrangeira: é uma porta de entrada para universos culturais, profissionais e simbólicos que, historicamente, foram associados às elites.
Mas será que esse cenário permanece intocado em um mundo cada vez mais globalizado e conectado digitalmente?
O complexo de vira-lata: quando o brasileiro pede desculpas por existir
Nelson Rodrigues, em sua célebre definição, chamou de “complexo de vira-lata” a tendência do brasileiro de se sentir inferior ao estrangeiro. Décadas depois, essa sensação se perpetua em diferentes esferas, e a língua inglesa é um dos campos mais evidentes.
Quem nunca ouviu ou até mesmo disse a frase “sorry for my English” em uma reunião, viagem ou conversa informal com estrangeiros? Essa expressão, aparentemente inofensiva, carrega uma confissão profunda: não apenas um pedido de desculpas pelos erros linguísticos, mas a internalização da ideia de que o brasileiro “fala errado”, que seu inglês nunca é bom o suficiente, que sua voz é sempre uma versão inferiorizada em relação ao falante nativo.
Do ponto de vista sociológico, essa prática pode ser lida como uma forma de violência simbólica (Bourdieu, 1991): o brasileiro introjeta a ideia de que sua forma de falar não é legítima, e pede desculpas por ocupar o espaço da comunicação internacional.
Inglês como capital simbólico e marcador de status
Segundo pesquisa do British Council (2015), apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Essa escassez confere ao idioma um enorme valor de distinção social.
No Brasil, falar inglês é percebido como um capital simbólico (Bourdieu, 1991): algo que distingue os que “podem” dos que “não podem”. O domínio do idioma se converte em uma espécie de credencial invisível, muitas vezes mais valorizada do que diplomas ou certificações formais.
É comum, por exemplo, que em ambientes corporativos o profissional fluente seja automaticamente percebido como mais preparado, cosmopolita, “antenado” — ainda que sua competência técnica não seja superior. A língua funciona como um atalho de prestígio.
Entretanto, há uma contradição importante: muitos brasileiros ricos investem fortunas em cursos e intercâmbios, mas jamais alcançam fluência real. Por outro lado, jovens de periferia têm se apropriado de conteúdos gratuitos disponíveis online — canais no YouTube, podcasts, aplicativos — e alcançado níveis de proficiência surpreendentes.
Ou seja, não é a renda que determina a fluência, mas sim o engajamento e a disciplina. O inglês, portanto, deixa de ser exclusivamente “coisa de rico” e se torna também uma ferramenta de mobilidade social para quem ousa ultrapassar barreiras históricas.
Sotaque brasileiro: defeito ou identidade?
Outro ponto delicado é a questão do sotaque. Muitos brasileiros acreditam que para “falar bem inglês” é preciso eliminar qualquer vestígio da sonoridade brasileira e imitar o padrão do nativo. Essa crença, além de gerar bloqueios emocionais, alimenta uma baixa autoestima linguística.
Contudo, estudos de linguística aplicada sobre English as a Lingua Franca (ELF) (Jenkins, 2007; Seidlhofer, 2011) mostram que a maioria da comunicação em inglês no mundo acontece entre não nativos. Em contextos globais, a função principal da língua não é soar perfeito, mas sim ser compreensível. Como sempre digo para minha comunidade: Fluência = entender, falar e ser entendido.
Exemplos não faltam: personalidades brasileiras como Gisele Bündchen, Pelé, Ayrton Senna e empresários em fóruns internacionais sempre falaram inglês com forte sotaque brasileiro, e isso nunca os impediu de serem compreendidos, respeitados e até admirados.
O problema, portanto, não é o sotaque em si, mas a maneira como o brasileiro o interpreta. Enquanto países como França, Alemanha e Itália incorporam seus sotaques como parte da identidade nacional, no Brasil ainda predomina a lógica de que “falar com sotaque é falar errado”.
Aqui, mais uma vez, o complexo de vira-lata se manifesta: o sotaque vira símbolo de inferioridade, quando poderia ser sinal de autenticidade cultural.
Viagens internacionais: experiências rasas ou transformadoras?
As viagens ao exterior revelam de forma nítida essa desigualdade linguística. Muitos brasileiros, mesmo viajando com frequência, voltam com relatos limitados a paisagens, compras e gastronomia. Falta profundidade cultural: não conseguem contar sobre as pessoas que conheceram, as conversas que tiveram, os aprendizados adquiridos ou os negócios realizados.
Essa limitação reduz a experiência de viagem a um consumo superficial, sem verdadeira interação cultural. O sociólogo Dean MacCannell (1999) já mostrava que o turismo pode se tornar um fenômeno de alienação, quando restrito a símbolos visuais e sem interação autêntica com o outro.
O inglês, nesse sentido, não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um meio de aprofundar experiências. Quem domina o idioma retorna de uma viagem com histórias humanas, não apenas com sacolas de compras.
O cérebro, a vergonha e a autossabotagem
A neurociência lança luz sobre esse tema. Pesquisas sobre neuroplasticidade (Schwartz & Begley, 2002) mostram que aprender uma nova língua fortalece conexões cerebrais ligadas à memória, atenção e criatividade.
Contudo, o estado emocional do aprendiz influencia diretamente sua performance. Beilock (2008), estudando ansiedade em contextos de desempenho, mostrou que o medo e a vergonha ativam áreas cerebrais ligadas à resposta de ameaça, o que reduz a capacidade de raciocínio e memória de trabalho.
No Brasil, quando o aluno internaliza a crença de que inglês é “coisa de rico” ou que seu sotaque é “errado”, ele aciona mecanismos de autossabotagem que o impedem de avançar. A barreira, nesse caso, não é apenas gramatical, mas psicológica.
O inglês como espelho de desigualdades — e também de possibilidades
Não há como negar: no Brasil, o inglês foi historicamente associado a elites econômicas e intelectuais. Por décadas, ter acesso a cursos caros e intercâmbios internacionais era privilégio de poucos. Esse histórico consolidou a ideia de que “inglês é coisa de rico”.
Mas esse quadro vem se transformando. Hoje, o acesso gratuito a conteúdos digitais rompeu barreiras de classe. O que antes era símbolo de exclusividade pode agora ser ferramenta de ascensão.
Ainda assim, o idioma continua funcionando como um espelho das desigualdades brasileiras: quem fala inglês abre portas; quem não fala, muitas vezes permanece limitado em suas oportunidades.
Inglês não é de rico — é de quem ousa
Mais do que uma habilidade, o inglês é um campo simbólico que reflete o Brasil em suas contradições: o desejo de pertencimento global, a vergonha herdada do complexo de vira-lata, a luta contra desigualdades históricas.
Dizer que “inglês é coisa de rico” é ignorar as mudanças do presente: o inglês é, cada vez mais, coisa de quem ousa romper barreiras, assumir seu sotaque e se projetar para além das fronteiras nacionais.
Aprender inglês não significa abandonar a identidade brasileira, mas expandi-la. O verdadeiro luxo, nesse caso, não é falar como um nativo, mas ousar ocupar espaços globais com a voz brasileira.
Referências
- Alcoforado, M. (2023). Coisa de Rico.
- Beilock, S. L. (2008). Math performance in stressful situations. Current Directions in Psychological Science, 17(5), 339-343.
- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press.
- British Council (2015). English in Brazil: An examination of policy, perceptions and influencing factors.
- Jenkins, J. (2007). English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford University Press.
- Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press.
- MacCannell, D. (1999). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. University of California Press.
- Nelson Rodrigues (1958). Crônicas e ensaios sobre o “complexo de vira-lata”.
- Schwartz, J. M., & Begley, S. (2002). The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force. HarperCollins.
- Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a Lingua Franca. Oxford University Press.
Junte-se ao nosso grupo exclusivo no Telegram e receba dicas diárias para transformar seu inglês!
👉 Clique aqui para acessar 🌟📚
Para destravar seu inglês com princípios de neurociência, deixe seu email AQUI.